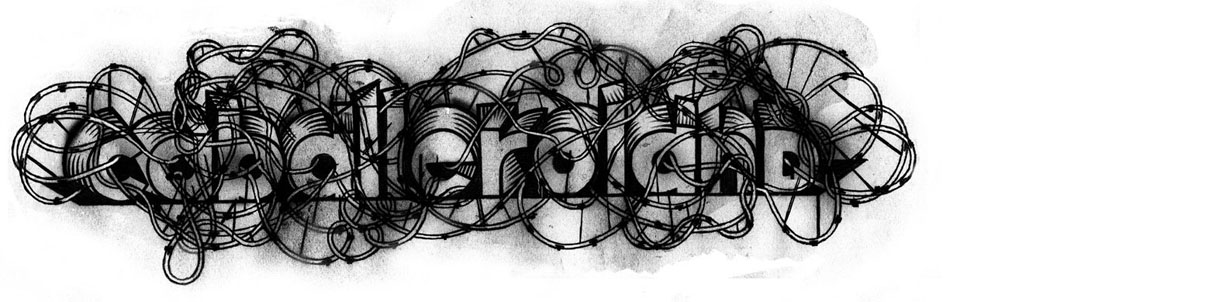Por Fátima Lambert
"Por natureza entendemos o nexo infindo das coisas, a ininterrupta parturição e aniquilação das formas, a unidade ondeante do acontecer, que se expressa na continuidade da existência espacial e temporal. (…) A nossa consciência, para além dos elementos, deve usufruir de uma totalidade nova, de algo uno, não ligado às suas significações particulares nem delas mecanicamente composto - só isso é a paisagem."
Georges Simmel – Filosofia da paisagem
“…repetiu-me a definição do costume, e como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha…”
Machado de Assis – Dom Casmurro
“A paisagem, tão admirável como quadro, é em geral incómoda como leito.”
Bernardo Soares – Livro do Desassossego, vol. II, p. 37
PERSONAGENS:
Ele (sempre ausente da peça, é uma espécie de voz da consciência).
Eles – em uníssono discordante: Daniel e Pascal.
Homem da montanha – tem uma casa incrustada no coração pois a sua matéria é a madeira
Homem do concreto (termo brasileiro para o cimento de Portugal) – usa chapéu e bermudas e faz-se acompanhar de um bloco e lápis.
Eu – que estou por aí.
CENA ZERO:
Ele disse: “Não gosto de paisagem.”
Eu digo: Off we go.
Eles (Daniel e Pascal) dizem: “vamos dentro da paisagem pois a caminhada, a viagem, a deriva e o mergulho estão lá dentro, submersos...”
Eu digo: “…avançando para uma saída luminosa?”
Eles dizem: “…hum talvez…”
Acto I
[ENTRA EM CENA O HOMEM DA MONTANHA]
Homem da montanha: “Há certa tendência em olhar as imagens – quer pictóricas, quer fotográficas – sondando o passado. Olhamo-las, não somente para um fruir estético que se proponha descontaminado, “suspendendo” outros pensamentos e razões…todavia, acaba-se quase sempre relacionando o reconhecimento (entre o) do visto com “algo”, coisificando a imagem, ao mesmo tempo que se concetualiza a imagem – no contexto de um imaginário privado ou societário. Assim, se processa esse crescendo, paralelo à nossa vida como pessoa; esse acumulo que é um arquivo iconográfico/iconológico – pois se trata de desvelar camadas sucessivas, de as decifrar…, contribuindo para o aperfeiçoamento de uma educação estética implícita.
Eu: Então, quais são as razões da paisagem? Porque se convencionou, com tal veemência, que nos atinge, assim, a contemporaneidade? Posso citar o Bernardo Carvalho que escreveu em Mongólia:
“A paisagem na arte contemporânea é uma memória de estar no mundo.”1
Homem da montanha: …precisamos tanto, sempre, de encher essa pedra da memória. A paisagem serve muito bem para dar imagens a coisas que se perderam. É mais fácil reconhecer os episódios da vida, a terem acontecido em paisagens do mundo.
“A paisagem oscila entre um imaginário empático do artista e a busca de uma realidade objectiva das plantas, dos animais, dos relevos, das cidades e de tudo o que constitui a paisagem.”2
Homem do concreto: Lá vens tu, com essa ideia do Amiel a dizer que a paisagem é um estado de alma…3
Eu: Prefiro a convição do nosso Bernardo Soares – que imaginou as suas paisagens de chuva, através da janela do seu escritório…será que as melhores paisagens são aquelas que vemos pela janela? Sem estarmos dentro das paisagens, da natureza? Bom, não me respondam…deixem-me acreditar que: “ Desde que a paisagem é paisagem, deixa de ser um estado de alma.” Como eu acredito nisso…que não acredito.
[ouve-se, sem se ver na paisagem, a voz dele]
Ele disse: “Não gosto de paisagem.”
Não acredito na paisagem. Sim. Não o digo porque creia no “a paisagem é um estado de alma” do Amiel, um dos bons momentos verbais de mais insuportável interiorice. Digo-o porque não creio.”4
Homem do concreto: Acredite-se ou não na paisagem, há dias em que: “… esta é a paisagem que me pertence, e em que entro como um figurante numa tragédia cómica.”5
Homem da montanha: tu possuis todas as paisagens que existem para tu veres. Certo, é conveniente que tu as vejas ou as queiras construir do nada? Como se todas as manhãs do mundo - do Pascal Quignard – estivessem sempre na linha – possível ou impossível - da porta de casa, ali prontinhas a serem empilhadas. Cada dia que haja, farias uma torre de paisagem diferente. Mas era sempre paisagem porque na palavra paisagem não se vê nada…ou… vê-se tudo.
Eu: Oh pois! … (rsrsrs) Vejam lá, será? Como se pode concluir algo…do alto dessas torres de marfim que tu constróis? Tudo está lá dentro. Esses teus momentos rápidos, impulsos de paisagens…paisagens encarnadas, a carne da paisagem…ando às voltas de Gilles Deleuze.
“O mais que há no mundo é paisagem, molduras que enquadram sensações nossas, encadernações do que pensamos.”6
[pausa para respirarem a ideia de paisagem que é uma encarnação]
Eu: Vamos avançando com as ideias para outras bandas de paisagem. Será que ainda existe mesmo paisagem nos argumentos dos filósofos e na prática dos artistas e poetas? Porque, décadas atrás, André Lhote (Traité du paysage, Floury, 1939) escreveu acerca da “decadência da paisagem composta”, mencionando Poussin e Claude Lorrain. Que fazer…
[percebe-se que provocaram uma interrupção e não a deixam falar]
Homem do concreto: …ideia da paisagem composta… talvez aconteça; por conta dessa massa de olhares que entram e enxergam dentro da alma, quando o viajante pára e compõe a sua imagem de síntese…
“O viajante, no seu movimento incessante, vê tudo à distância. Silhuetas recortadas contra a paisagem. Imagens arquitecturais se destacando no horizonte. Pessoas e lugares que pretende encontrar depois da próxima curva. A viagem é produção de simulacros, de um mundo puramente espectral erguido à beira da estrada.” 7
Homem da montanha: eu diria talvez, e por minha conta e risco, relembrando esse pintor alemão que andou pela América do Sul…
[sai de cena o homem do concreto]
Eu: …então, referes-te ao Rugendas?
Homem da montanha: não te apresses em falar… deixa-me falar do princípio. O Alexander von Humboldt entendeu o seu ofício como implicando a “apropriação” visual da natureza, pela via de um acúmulo de imagens que fosse via privilegiada, em termos de rigor para constituição de seu conhecimento minucioso. A imagem isolada não servia para a aderência de saber: carecia assegurar as imagens em formato conjunto, pela completude instituindo o quadro.
Eu: vais mesmo dizer isso tudo…e para quê?
Homem da montanha (sem dignar-se dar réplica, continua…): Johan Moritz Rugendas8, à semelhança e motivado pelo geógrafo, percebeu que deveria proceder, de modo a captar “fisionomia” da paisagem. Assim, viajou pelo Brasil, entre 1822 e 1825.
Eu: É. César Aira, em Um episódio na vida do pintor viajante (2000), narra exatamente as efabulações de Reguendas, no seu périplo pelas terras da América do Sul. Haja precisão, minha gente. Sejamos rigorosos…Vá-se lá saber quem nos ouça!
[Entra em cena o homem do concreto]
Homem do concreto: Perdão, regressei. Entro nessa conversa. Tem aquele outro…chamado de Sandro Lanari que é o protagonista da ficção de Luiz Antonio de Assis Brasil, O pintor de retratos (2001). O escritor narra a história de um fotógrafo que progressivamente se converte em pintor.
Homem da montanha:
“…todo artista deveria representar a natureza livre da necessidade de pré-julgamento, das representações antecipadas, visto que a natureza não sofresse a deformação do olhar preconcebido, em outras palavras, uma natureza virginal.” 9
Eu: Sem querer parecer doutrinal mas…não pode ignorar que as tradições pictóricas e artesanais já estabelecidas, foram largamente reforçadas pela nova ciência experimental e pela tecnologia. Ajudou à confirmação da importância dasdas imagens, nesse périplo, nesse caminho para o que seria um novo e inelutável conhecimento do mundo.10
[pausa, olham-se os 3 em cena]
Eu: Não dizem nada? Então, continuo…No séc. XVIII, Alexandre Rodrigues Ferreira empreendeu jornada pela Amazónia, da qual empreendeu relato pormenorizado - «Viagem Philosophica» (1783-1792) que, até hoje, enreda qualquer leitor e espetador.
Homem da montanha: Nos tempos do antigo mundo, do mundo novo ou deste que estamos…o homem partilhou sempre essa sedução da errância, da deriva…quer na natureza, quer na cidade…Já Herman Hesse dizia:
“El caminante es, en muchos aspectos un hombre primitivo, del mismo modo que el nómada es más primitivo que el campesino. (…)
Homem do concreto: oh! …por certo! Mas ele diz mais, ainda:
“Porque soy nómada, no campesino. Soy amante de la infidelidad, del cambio, de la fantasía. 11
E, meus queridos amigos desta conversa, se não se importam, vou tomar um cafezinho. Já volto.
[Aliás, saem todos de cena, tornam-nos cegos do que se passa]
Eu: Concordo com Herman Hesse quando, em Wanderer, assinala que “vencer o sedentarismo e depreciar as fronteiras converte as pessoas da minha classe em postes indicadores de futuro.”12
Homem da montanha: … porque retomas o que eu disse? Hum…enfim. Entendo. Gostas de dizer o dito…para que não se perca.
[gera-se a expetativa da pausa]
Eu: No Ocidente, a paisagem é breve.
Homem do concreto: “Continuo desenhando rápido enquanto a paisagem desaparece.”
Acto IV
[estão todos em cena e vislumbra-se uma janela ao fundo com vista sobre uma rua]
Eu: (…o que leio…)
“A paisagem em volta esvaziada de sentido, reflectindo-se nos meus olhos, brotava dentro de mim…” 13
Eles: Isso significa… Trazer a paisagem para dentro: foi olhada [essa vista] através de fotografias. Paisagem que entra dentro de casa: o exterior converte-se em interior, instalando-se, residindo, ainda que provisoriamente, “dentro”.
Homem do concreto: estamos a falar do processo de elaboração dos desenhos. O tema iconográfico corresponde à vista pela janela grande da Galeria… e foi por mediação.
Eu não estava ainda aqui. Tu (dirigindo-se a Eu) enviaste-me as imagens daqui. Olhaste pela janela e eu, o artista (apesar de homem do concreto) desenhei essas tomadas de vista, atribuindo-lhes uma nova identificação e caraterísticas.
Eu: tu não és homem concreto (do concretismo…) mas do concreto…
Homem do concreto: Falando sério. A metodologia de trabalho: para a produção dos desenhos, vi as fotografias do lugar: ou seja, a vista direccionada (entre as muitas possíveis), dirigindo-se para a rua.
Eu: Pois. O lugar, a vista eram-te desconhecidos, ou seja, não tinhas a vivência direta. O local, portanto, era-te “estrangeiro” (anónimo) e fixaste-o em registo.
[parou]
Homem do concreto: …apropriando-se de forma intermediada – pois o ângulo de tomada de vista não foi decidido por ele. Era isso que ias falar a seguir?
Homem da montanha: Pense-se quanto uma vista de um lugar específico – “conhecido” e/ou “nominado” – configurado na imagem fotográfica se transporta para algo “mastigado” e decidido […ainda que des-conduzido… (murmurei, entre dentes)] pelo olhar do artista.
[ouve-se uma voz off]
Voz off: Como uma paisagem real, um excerto de natureza vocacionada pela determinação de alguém, passa a usufruir a condição de paisagem imaginada, mas não imaginária. Tratar-se-á de atos sobreposicionais. O desenho concretizado em papel e depois o desejo de alastrar pela parede lateral da galeria: eivado de um sentido de desprendimento, despojamento…deixar ficar, prescindir. E, de modo imperceptível, futuramente, ser mais uma camada do palimpsesto.
[de tão inesperada se ouviu a voz que os presentes entenderam retirar-se. pausa de café e fatia de bolo de chocolate – caso houvesse…]
Acto V
Eu: Regressamos. Lembrei-me daquele diálogo do Mondrian…entre o pintor naturalista e o pintor abstrato…(rsrsrs) estamos a imitá-lo…Mas seja.
Homem da montanha: Construí.
Eu: Tu acreditavas.
Homem da montanha: Cada pedaço de madeira e eu acreditava. Cada desenho da paisagem inventada e eu acreditava.
Homem do concreto: E eu, também. Cada caminhada na cidade, por entre aquilo que hoje está e amanhã, não mais se vê. Acredito na paisagem, talvez. Na sua condição de não ser dominada; mas tampouco que se deixe dominar, isso não.
Homem da montanha: Por isso, vês a minha casa no lugar do coração. A cidade ou lá o que seja isso, está dentro. Construi a realidade da paisagem dentro de mim. Fora vêem a carne da paisagem. Assim, viajo.
Homem do concreto: Vês a espessura dos meus desenhos das paisagens? É a pele que engrossa nas paredes porque os dias se seguem e pousam em cima das árvores e das pedras. Quase chegava dentro das paredes, como se fosse um mar de pedra.
Homem da montanha: eu quase chegava à ilha, talvez o Gilreu na beira da praia, em frente a linha do horizonte - que o Alexandre Rodrigues Ferreira14 atravessou…
Eu: ele viajou pela Amazónia, numa expedição filosófica. Era o séc. XVIII. Na Universidade que, em 1772, teve uma reforma, considerava-se que a Filosofia Natural carecia, não somente de fundamentação teórica, mas crítica. Assim, os naturalistas empreenderam esse programa de expedições, como hoje se designaria. E de lá trouxe imagens e coisas. Também ele foi um riscador. Assim os denominavam, aqueles que desenhavam o que fosse enxergado, visto.
“Julgamos que nos libertamos dos lugares que deixamos para
trás de nós. Mas o tempo não é o espaço e é passado que está
diante de nós.” 15
[saem de cena todos, sem justificarem ausência. não se sabe se regressam]
* Texto realizado por ocasião da curadoria da exposição, "Ele disse: “Não gosto de paisagem. (Off we go.)" com Daniel Caballero e Pascal Ferreira, na Quase Galeria , Porto, Portugal - 2015.